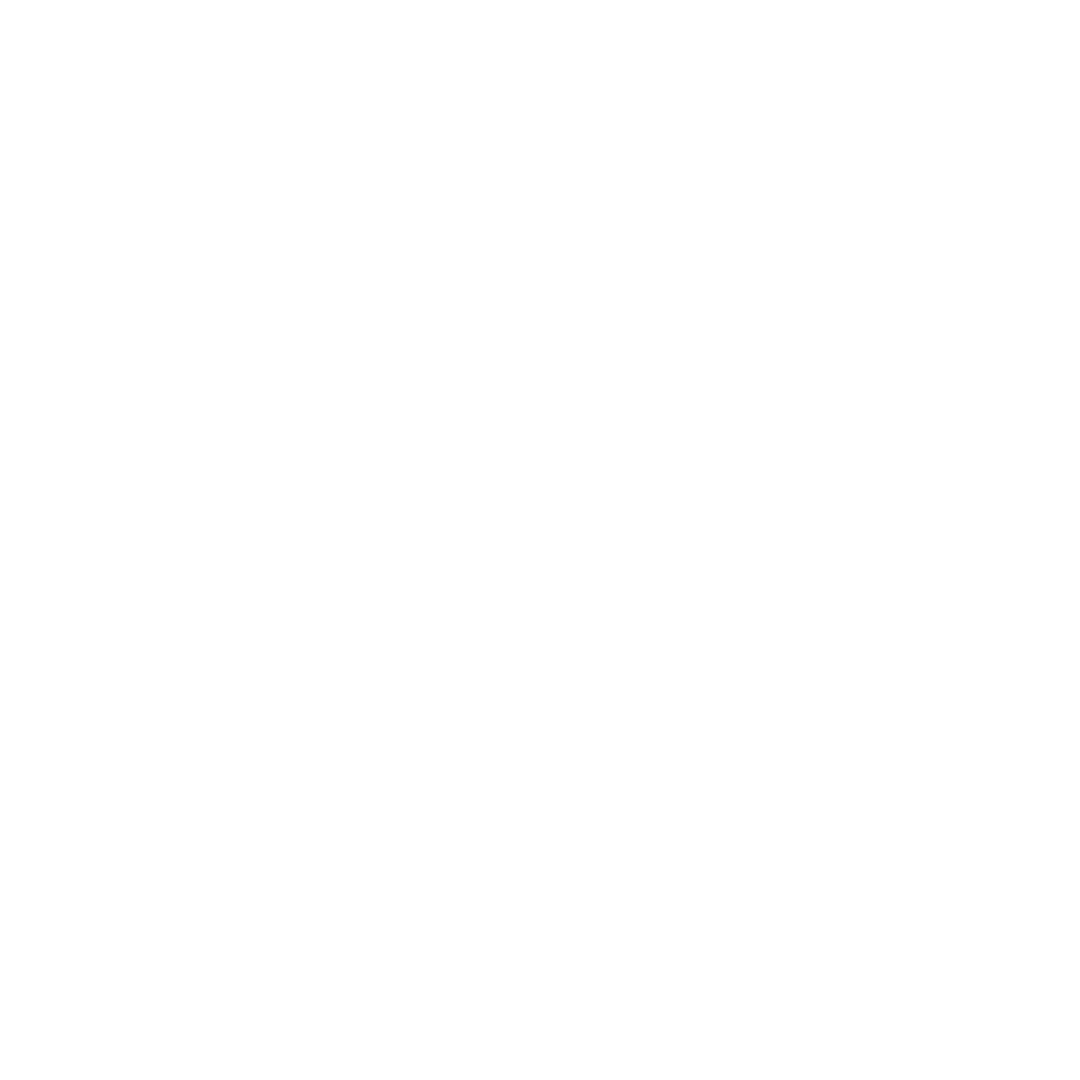Escrito por um general da Guerra Civil chamado Lew Wallace, Ben-Hur teve como mais conhecida a versão de 1959, dirigida por William Wyler e vencedora de incríveis 11 Oscars, conhecida não apenas por ter salvo a MGM da falência na época, como por seus excessos de produção (só a cena da corrida de bigas custou 1 milhão de dólares) e também por se tornar um dos maiores épicos da história do cinema, ao conseguir agradar ao público, com suas cenas de ação muito bem elaboradas e também grande parte da crítica, principalmente pela sensibilidade da direção de Wyler, que soube explorar um subtexto de amor e perdão, por meio de encontros com Cristo, por exemplo.

Mesmo com todo o elenco afirmando que a versão de 2016 não é um remake de 59, as semelhanças são inevitáveis (meio óbvio, já que é uma adaptação do mesmo livro que inspirou seu antecessor), demonstrando também uma visível preocupação em não querer se comparar com a versão estrelada por Charlton Heston. Nessa nova “releitura”, há basicamente uma mudança significativa a princípio, que é a relação entre Ben-Hur e Messala. Para quem não conhece, na versão anterior eles eram melhores amigos, porém nesta, Messala (Toby Kebbell) é irmão adotivo de Ben-Hur (Jack Huston), que é um príncipe judeu. Dirigida por Timur Bekmambetov (“O Procurado”, 2007), na nova história Messala (agora um líder do exército romano) acusa o irmão e sua família de traição e prende tanto Ben-Hur (que vai ser escravo nas galés dos navios romanos), como sua irmã e sua mãe. Cabe ao príncipe judeu retornar em busca de vingança e justiça.

Para nos desprendermos de vez da idéia de que este “Ben-Hur” se preocupe em homenagear outras versões, convém dizer que em muitos aspectos essa produção se assemelha muito mais a “Gladiador (2000)” do que da própria versão de 59. A começar pela sua duração, com pouco mais de 2 horas (contra 2h e 35min de Gladiador, mas longe das 3h e 32min do antecessor), mas principalmente por sua estratégia de público-alvo. O próprio “Spartacus (1960)” já havia se preocupado com o excesso de sermão na narrativa e escolheu aumentar a carga de violência, apenas sugerindo para o espectador que uma lição fora aprendida. Quase quarenta anos depois, essa foi a receita que o épico romano estrelado por Russell Crowe repetiu e nem precisamos dizer, mas deu super certo.

“Ben-Hur” começa com narração de Morgan Freeman, que interpreta Ilderim, apostador de corrida de bigas que vai aparecer apenas na segunda metade do filme (mais uma semelhança, desta vez com o personagem de Oliver Reed em “Gladiador”). Nos primeiros minutos, naturalmente é estabelecida a relação de proximidade dos irmãos Judah Ben-Hur e Messala. Eles não são apresentados de forma muito sutil, um pouco brega na verdade, mas ao menos o que acontece já serve para contar um pouco sobre quem os personagens realmente são. Logo descobrimos que Messala se preocupa com o irmão, mas se sente bastante deslocado, estando em uma família que não é a sua biológica (estando sempre debaixo dos olhares desaprovadores de sua mãe adotiva) e ainda tem um desejo explorador dentro de si. Já Judah (Ben-Hur) é uma pessoa de muito bom coração, que gosta de ajudar de dentro da sua zona de conforto, sem comprometer a si mesmo e o nome da família.

Portanto, por mais que o figurino seja moderno demais e talvez não retrate com muita fidelidade as vestimentas da época, e comece se a criar certo melodrama em torno da relação entre os personagens – como a questão da adoção, além da insinuação de um amor proibido, que deixa bem com cara de novela a princípio – como eu mencionei, não são elementos que estão lá por acaso, mas ajudam a estabelecer a personalidade de cada um e vão ser importantes para a motivação e para o arco dramático dos personagens, especialmente de Judah. Há um conflito político que envolve os judeus (que representam o povo) e os romanos (que representam o governo opressor), que aborda levemente a questão da intolerância religiosa e assim justifica a presença de Jesus Cristo (Rodrigo Santoro, em uma interpretação muito boa, por sinal) espalhando seus ensinamentos, e ainda possibilita o filme de criar algumas cenas bem tensas, como ocorre em uma cena com Judah e os Zelotes (parte do povo que se rebela e confronta os romanos).

A direção de Timbur é muito bem sucedida no sentido de focar nos arcos dos dois protagonistas, e por mais que não ocorra muita ação nos primeiros trinta a quarenta minutos de filme, quando Messala retorna – porque Pilatos (Pilou Asbaek) vai passar por Jerusalem e Messala é o encarregado da segurança desta passagem – ainda há uma última chance para que os dois protagonistas se entendam, mas algo dá muito errado e a grande sacada do filme é que o que acontece condiz com a personalidade dos personagens, justificando o melodrama do início, pois Messala já é uma pessoa totalmente diferente, enquanto Judah vai passar por sua transformação. Destaque para a forma como o diretor mostra a trajetória de Messala, com um bom flashback explicativo de como ele se tornou quem é agora.

No segundo ato, o filme se sustenta muito bem. Toda a saturação de cores que era presente na vida de Judah no palácio, da lugar a uma paleta escura e suja nas galés, reforçando um elemento muito importante em um filme, que é fazer o espectador pensar nas “coisas que ele mais temeria perder”, como família, dinheiro, status social, etc. Embora o Ben-Hur de Jack Huston seja muito mais galã e suave que o de Charlton Heston, há muito vigor no semblante do personagem, resultado de uma grande atuação do jovem londrino. Já Kebbell, que mostrou grande desenvoltura em personagens de captação de movimentos, como Koba (“Planeta dos Macacos: O Confronto”) e Durotan (“Warcraft”), ainda não conseguiu usar todo seu potencial quando precisa atuar em live-action. O filme tem dois grandes momentos de ação incrivelmente dirigidos e executados, um deles é a cena das galés, absolutamente de tirar o fôlego, mesmo com algumas utilizações de câmera subjetiva desnecessárias e a outra é a cena das bigas, que veremos mais adiante.

Com exceção da espetacular cena da corrida de bigas, em uma sequência que dura aproximadamente uns dez minutos alucinantes (que precisam ser vistos em IMAX), o terceiro ato é o mais fraco do filme. Ainda há o simbolismo muito bacana de Judah renascendo para uma nova vida ao emergir das águas, e Morgan Freeman e Santoro continuam passando credibilidade a seus papéis em suas tramas paralelas, mas enfim o filme se rende ao melodrama e se deixa contaminar pelo “politicamente correto”, digamos assim. Se o filme tivesse acabado exatamente junto com a corrida de bigas, teria sido um resultado muito mais corajoso e satisfatório, mas indo de encontro com a mensagem de perdão e de amor que o diretor quis passar, começam a acontecer algumas situações bem forçadas e, neste ponto (apenas neste), eu concordo com a colocação de alguns de que o final tenha ficado com muita cara de novelão das oito. Mesmo assim, ignorando tudo após a corrida de bigas, “Ben-Hur” realmente acerta por não querer superar seu antecessor e por conseguir modernizar a história, deixando-a mais acessível a novos públicos.
Confira abaixo a entrevista que fizemos com os atores Rodrigo Santoro e Jack Huston em suas passagens pelo Brasil: